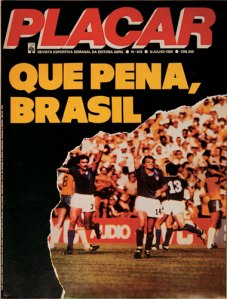Postado por: Marcos Abrucio

Seu Domingos entrou no vestiário e foi de um em um com a garrafa de café. Os mais novos recusaram. Eu não. Nesse momento da carreira — os acréscimos — todo estímulo extra é bem-vindo. Virei dois copinhos.
No ano que vem, não vou estar mais aqui, sentado no chão de azulejos, respirando uma mistura de suor, umidade e cheiro de plástico das chuteiras baratas. Não quero mais fazer isso. Já são quase vinte anos. Cada temporada em uma cidade diferente, jogando quarta e domingo, tomando banho gelado, sentando no piso gelado, bebendo café gelado. Porra, seu Domingos!
Preciso fazer alguma coisa diferente na vida do que arrumar a mochila, ir para o estádio, vestir o uniforme, prender as caneleiras e chutar uma bola por 90 minutos. Por isso eu quis parar.
Mentira. Por mim, eu continuava, mas o corpo não aguenta mais. Queria ter o joelho de vinte anos com a cabeça de 39. Hoje eu sei que o futebol é um negócio simples. Duas jogadas antes, já vejo o que vai acontecer. Aprendi onde eu tenho que estar, o que eu tenho que fazer. Mas as pernas não chegam. Não correm, não chutam. Eu vou parar porque a cabeça está com vergonha delas.
A dúvida é: como vai ser depois? Não sei fazer mais nada, não me preparei para mais nada. Meu maior medo na vida é o ano que vem.
Começou o aquecimento. Piques rápidos ao redor de baldes dentro do vestiário apertado. Depois, um bobinho. Eu sempre pulo o aquecimento. Não vou me cansar antes da hora. Fico encostado em uma parede, mexendo devagar as pernas e os pés. Cada articulação tem sua trilha sonora: algumas parecem dobradiças mal-lubrificadas; outras são cascas de nozes sendo trituradas. Às vezes, sou só eu gemendo, mesmo.
Dobrei a perna esquerda. As mesmas dores e estampidos de sempre. Estiquei de novo. Depois, girei o pé no sentido horário. Som de pipocas estourando no micro-ondas. Fiz o mesmo com a perna direita: dobrei, estiquei, girei. Silêncio. Esquisito.
Repeti os movimentos e senti a canela e a coxa quentes, formigando. Mas não um formigamento paralisante, pelo contrário. A perna parecia mais firme. Pensei em falar com o doutor, mas fiquei com medo dele me tirar do time. Pior do que jogar com dor é ficar no banco com dor (e o bicho é pela metade).
Já no gramado, o formigamento e o calor estavam ainda mais fortes. Um milhão de ferroadas em brasa, mas que juntas formavam uma sensação agradável. Será que eu deveria ter falado com o doutor? Nem deu tempo de continuar pensando: o jogo começou e a bola veio para mim. Tentei um lançamento e mandei a coitada no estacionamento atrás da arquibancada de madeira. Não tinha essa força na perna havia muito tempo. Talvez nunca.
O resto, vocês podem ler no jornal da cidade: fiz três gols, todos de fora da área, todos no ângulo, todos de perna direita. No último, a rede até furou.
***
No fim do jogo, as ferroadas passaram, como se as abelhas tivessem voado para longe. Um jornalista de uma rádio local veio correndo e enfiou um microfone gigante na minha boca. Lembrei de quando eu joguei no Morumbi, no Pacaembu, na Vila Belmiro.
Em duas décadas, joguei em quinze times diferentes. Quase todos do interior de São Paulo, mas também alguns do Nordeste e do Paraná. A passagem mais reluzente foi no Bragantino: oito gols nas dez primeiras rodadas do Campeonato Paulista. Olheiro da Rússia na arquibancada. Enfiei o pé em um buraco perto da linha de fundo, torci o joelho e fiquei onze meses parado. O Bragantino não renovou meu contrato.
O jogo seguinte foi fora de casa, em Limeira. O vestiário cheio de goteiras e poças por toda parte. Nem pensar em andar por aí só de meias, e eu adoro andar de meias. Começou o aquecimento e de novo me mantive à parte. Quando as picadas começaram a esquentar minha perna direita, corri para as escadas e fui o primeiro a chegar no campo.
Eu estava cheio de confiança. Mas era uma sensação tão diferente para mim que parecia que eu estava com febre. Escanteio a nosso favor, fiquei na entrada da área, esperando algum rebote. O rebote veio, e peguei na bola de primeira. “Na gaveta!”, gritou o narrador do rádio. O goleiro nem se mexeu.
No intervalo, chamei o seu Domingos, que além de fornecedor de café também era o roupeiro do time. Pedi outra chuteira: a minha tinha rasgado ao meio, de ponta a ponta.
***
A força que enrijecia minha perna um pouco antes de entrar no gramado ia embora após o apito final. Em casa e nos treinos, nada. Só dores, guinchos e estalares. Na outra rodada, o formigamento e o calor voltavam, sem falta. Os gols, também — cadê o olheiro da Rússia agora?
O professor Samuel, nosso técnico, não era nenhum gênio. Todo mundo dava uma risadinha depois de chamá-lo de “professor”. Já estava velhinho e parecia dormir durante os jogos, principalmente à noite. Mas antes de um treino, ele bateu no meu ombro e disse que eu iria jogar mais adiantado. Que eu não precisaria mais voltar para marcar: era só para ficar lá na frente. Depois, ele foi para o banco, sentou e não falou mais nada.
Na partida seguinte, fui sorteado para o antidoping. Na outra e na outra, também. A bola parava, minha perna esfriava e eu já ia em direção ao fiscal. Sabia que seria “sorteado” toda vez. Fiquei amigo dos caras dos frasquinhos. Batíamos um papo e tomávamos uma cerveja até me dar vontade de mijar. Entregava o pote e ia embora. Nunca deu nada em nenhum exame.
***
A Débora, eu conheci na saída de um jogo em casa. Três a dois para nós, fiz o gol da vitória aos 42 do segundo tempo, de fora da área. Como sempre, fui o último a sair, depois das entrevistas, da cerveja e do mijo. No estacionamento, só estava o meu Corsa. Quando abri a porta, pensei que era a hora de falar com o presidente do clube: ele tinha que me dar um aumento, um carro novo, ou então eu me mandava para outro time. Quem sabe no próximo ano eu vou para um time grande?
“Anderson, a patada do Oeste”, disse a mulher atrás de mim, reproduzindo a manchete de um jornal local. Mais alta do que eu, loira tingida, vestia camisa do time, uma calça jeans bem justa e saltos plataforma. Me empurrou para dentro do carro e fechou a porta. Logo estávamos no banco de trás, e não entendi até agora como ela conseguiu tirar tão rápido aquela calça tão justa.
Depois dos treinos e dos jogos, encontrava a moça no estacionamento e íamos a um motel perto da rodovia. A Shirley sacou tudo e deu um jeito de acabar com aquilo. Um dia, depois de uma goleada, cheguei no carro e lá estava ela, em vez da Débora. Entramos no carro e fomos para casa. Não falamos nada a respeito nem ali, nem depois. Não vi mais a loira.
***
Estávamos no vestiário, antes da partida que decidiria o acesso para a primeira divisão. O empate era nosso. “Tem um empresário querendo falar com você depois do jogo”, disse o professor Samuel, sem nenhuma alteração na voz. Os outros estavam se aquecendo, e eu bebia o meu café, de meias.
Mais uma vez, o calor brotou de dentro da minha chuteira direita, subiu pelo tornozelo e envolveu a perna como uma meia-calça. Micropicadas frenéticas ativavam minha circulação com ainda mais força do que nas rodadas passadas.
O jogo foi duro. No intervalo, perdíamos de um a zero, mas eu estava calmo. Dava para ver minha perna pulsando. Dois adversários me marcavam de perto, e a bola quase não chegava em mim. Só fui conseguir chutar em direção ao gol aos 40 do segundo tempo, e foi o que bastou: um a um, placar que nos faria jogar na série A no ano que vem.
O juiz apitou, os jogadores do time e alguns torcedores correram para me abraçar. Eu fiquei parado, olhando para baixo: em vez da perna parar de formigar, ela começou a ficar roxa. Fervia. As picadas haviam se transformado em facadas ininterruptas. Chamei o doutor e saí de campo na maca. Seu Domingos apertava minha mão.
O que aconteceu depois também saiu nos jornais e até no Fantástico: tiveram que amputar minha perna direita para salvar minha vida. Os médicos não sabem explicar o que aconteceu. Minha carreira acabou junto com aquele campeonato. Como era previsto.
Eu estou bem. Só continuo com a mesma dúvida: como vai ser depois?