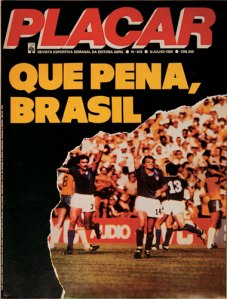Postado por: Marcos Abrucio

A diferença entre o número 5100 da avenida Francisco Matarazzo e o Continente Perdido de Atlântida é que Atlântida até pode estar em algum lugar, vai saber. Já o 5100 da Francisco Matarazzo, não. Eu e um motorista da Folha de S. Paulo passamos quase três horas procurando esse endereço, embaixo de muita chuva e no meio de muito trânsito, e podemos garantir: ele não existe.
“Perdido” é uma boa palavra para me descrever naquela manhã de segunda-feira (“encharcado” e “emputecido” também são fortes concorrentes). Primeiro, claro, por eu estar preso em um carro que virou barco em um mar de bueiros entupidos na Água Branca, a Atlântida paulistana, sem conseguir achar uma maldita escolinha de futebol. Mas a verdade é que eu já estava perdido antes.
Em um dia de tráfego igualmente caótico no começo daquele ano, eu havia pego dois ônibus e um metrô para chegar à USP e trancar a faculdade de Publicidade e Propaganda. Faltava pouco para terminar. Era só entregar o Trabalho de Conclusão de Curso e pronto: eu concluiria o curso. Congelar a minha matrícula era uma forma de me manter como estudante por mais tempo e assim conseguir um estágio na área — algo tão difícil de encontrar quanto, bem, quanto o 5100 da Francisco Matarazzo. Foi o que fiz, depois de duas horas na condução e cinco minutos na secretaria da faculdade.
O resultado, porém, foi outro: o dia inteiro em casa, assistindo TV de pijamas, sem estudar e sem descolar nenhum emprego. Vendo a situação, e como último recurso antes de mandar um pé na bunda, a minha namorada na época resolveu me ajudar. Ela trabalhava na Folhinha, o suplemento infantil da Folha, e falou com a editora dela. Dias depois, a mulher me ligou:
— Não quer escrever sobre futebol de agora até a Copa?
Estávamos em 2002, ano da Copa da Coreia e do Japão. Assistir e escutar e ler notícias sobre ela era tudo que eu fazia. Claro que aceitei a proposta. Ainda mais que eu sei tudo de futebol, pensei.
Só que não sabia nada de jornalismo. Quando acordei naquela manhã de raios e trovões escandalosos, não me passou pela cabeça, por exemplo, conferir o endereço de onde seria a minha pauta, o Pequeninos do Jockey. O clube de futebol infantil era famoso por revelar craques e disputar torneios internacionais das categorias de base. Era lá que eu ouviria a expectativa dos aprendizes de jogadores para a Copa que começaria dali a três meses. Mas “lá” aonde?
Ainda demoraria alguns anos para eu ter um celular. No bolso do motorista do jornal, ilhado ao meu lado, até que tinha um, “mas só pra receber ligação!”. Depois de muito navegar, conseguimos atracar ao lado de um orelhão. Liguei para a Folha:
— Vocês me mandaram para o Pequeninos do Jockey, na altura do 5100 da avenida Francisco Matarazzo. Mas não tem nada aqui!
— Francisco Matarazzo? Ah, desculpa, era Francisco Morato. Corre pra lá que as crianças estão esperando, desligou a editora.
A avenida Professor Francisco Morato, na zona sul, ficava a mais de 11 quilômetros do orelhão onde eu estava, na zona oeste. Um oceano de distância, ainda mais aquela hora, com aquele trânsito. Levantamos as velas e partimos.
Durante o caminho inteiro, o motorista, testemunha orgulhosa de centenas de coberturas muito mais importantes, assassinatos, manifestações, guerras, invasões alienígenas, sei lá, achava tudo muito engraçado. E riu mais ainda quando chegamos ao clube, por volta do meio-dia. Atrás do campinho alagado, em um pátio apertado, estavam os rostos nada felizes das crianças que esperavam desde as oito da manhã para serem entrevistadas.
Eram cem. Cem rostos de menino olhando para mim como se eu tivesse pessoalmente roubado a sobremesa de cada um deles. Pior ainda estava o humor do coordenador da escolinha.
— Tá todo mundo esperando o repórter, disse o homem de cabelos brancos e agasalho esportivo, um Zagallo dos juvenis.
O motorista quase engasgou de tanto gargalhar:
— Vai entrevistar todos eles, garoto?
Pedi para usar o telefone da diretoria, enquanto me perguntava como conseguiria ser demitido sem ser contratado. Liguei de novo para a redação:
— Por que não pediram para selecionar uns meninos? Tem cem aqui fora me esperando. Como eu vou falar com cem meninos?
Do outro lado, ouvi uma respirada profunda. Silêncio. Depois, à queima-roupa:
— Ué, se vira.
Voltei para a chuva e encarei os garotos de braços cruzados. O motorista e o coordenador técnico já tinham virado compadres, e cochichavam algo enquanto observavam a cena. Falei o mais alto que pude:
— Pessoal! Dividam-se em grupos de dez!
A molecada devia estar acostumada a seguir esse tipo de instrução — mesmo quando ela não fazia o menor sentido, como era o caso naquele momento, ou dita por alguém sem nenhuma autoridade sobre eles, como eu. Só isso explica eles começarem a se movimentar e se juntar em pequenos grupos.
Na primeira rodinha, já percebi que os garotos eram quase todos pobres, o estereótipo do futuro jogador que, assim que se torna famoso, aparece no Faustão e chora quando vê sua história triste retratada na tela. Eram também quietos e desconfiados, característica comum a entrevistados mirins de todas as origens, como fui descobrir em pautas seguintes.
A sorte foi que o tema ajudava. Comecei perguntando para qual time cada um deles torcia. São Paulo, Corinthians? E você? E você aí do outro lado? Depois, quis saber que jogador do seu time eles gostariam que estivesse na seleção. Surgiram as primeiras risadas e provocações entre eles, e logo as declarações começaram a pingar. Fui anotando tudo no meu caderno. Estava gostando daquilo.
Meia hora depois, terminei o grupo inicial. Faltavam agora só nove rodinhas, ou mais quatro horas e meia, seguindo aquele ritmo. O coordenador se aproximou dos garotos:
— Quem já falou pode almoçar.
Aqueles meninos estavam me esperando desde de manhã sem comer. Como assim?
— Os outros não podem ir comendo também?
— Não, depois de comerem eles pegam o ônibus pra casa, esbravejou o homem, agora mais parecido com o Dunga que com o Zagallo.
A lógica do homem era absurda, como tudo naquele dia, naquele ano. Os garotos não podiam esperar mais quatro horas e meia; arranquei algumas folhas do meu caderno e distribui entre eles.
— Galera, escrevam qual deveria ser a escalação do Brasil, que jogos vocês querem ver e como vão fazer para ficarem acordados de madrugada.
Enquanto eu tentava adiantar o trabalho, chegou o fotógrafo escalado para registrar a matéria. Olhou desolado para o campo inundado. Depois, perguntou quem eram os personagens.
— Esses, apontei para o cardume de minicraques.
Ele riu baixinho. Jurei tê-lo visto trocando olhares com o motorista da Folha, que agora filava o almoço da garotada. Então chamou meia-dúzia de meninos, pediu para eles chutarem algumas bolas entre os lagos do gramado e saiu clicando. Menos de vinte minutos depois, o trabalho dele estava terminado.
O meu, ainda não. Tentei ser o mais rápido possível, mas ainda ouvindo ao menos uma palavra de cada garoto. Queria que sentissem que a espera tinha valido a pena. Ah, você quer ver os jogos da Inglaterra? Por causa do Beckham, né? Ah, vai dormir de dia e ficar acordado à noite? E a escola? Era quase três da tarde quando dispensei a última criança faminta.
O coordenador me chamou sem muita convicção para almoçar. Recusei, embora morrendo de fome. Não queria atrapalhar ainda mais a formação dos novos Ronaldinhos, Romários e Rivaldos. A chuva continuava, e o motorista roncava feito um navio no banco rebatido do carro. Cheguei em casa no começo da noite.
Mais tarde, olhei o calhamaço de páginas preenchidas pelos meninos. Juntei com as minhas anotações amolecidas de tão úmidas e vi em minhas mãos um verdadeiro dossiê sobre o que a nova geração do futebol brasileiro esperava da Copa do Mundo de 2002. Liguei mais uma vez para o jornal e perguntei quantas linhas eu poderia escrever.
— Ah, umas vinte.
O equivalente, na Folhinha, a umas duzentas palavras. Duas para cada pequenino do Jockey.